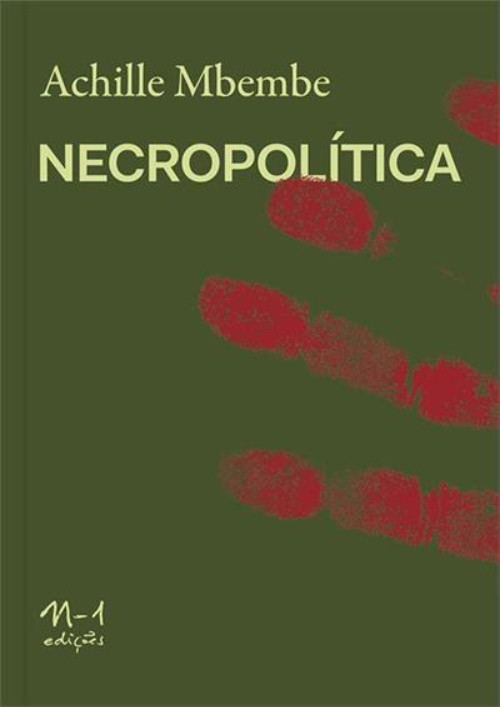Necropolítica
Michel Foucault foi um dos pensadores mais inquietantes da modernidade. Para ele, o poder encontra-se sempre associado a alguma forma de saber. Exercer o poder torna-se possível mediante conhecimentos que lhe servem de instrumento e justificação. Em nome da verdade, legitimam-se e viabilizam-se práticas autoritárias de segregação, monitoramento, gestão dos corpos e do desejo. Inversamente, é no centro de aparatos sofisticados de poder que populações são administradas.
O poder sobre a vida instala-se como modo de administrar populações, levando em conta sua realidade biológica fundamental. Através dele, estabeleceu-se em nossas sociedades, desde o século XVII, um contingente significativo de conhecimentos, leis e medidas políticas, visando ao controle de fenômenos, como aglomeração urbana, epidemias, transformação dos espaços, organização liberal da economia.
Um de seus conceitos mais notórios chama-se biopoder. Os que frequentam este site e não estão habituados, ou nunca leram Michel Foucault, provavelmente perguntarão: “O que vem a ser biopoder?”
Esse conceito refere-se a uma técnica de poder que busca criar um estado de vida em determinada população para produzir corpos economicamente ativos e politicamente dóceis em outras palavras, uma forma de governar a vida. Segundo Michel Foucault, biopoder foi posto em prática no Ocidente a partir do século XVII. Divide-se em dois eixos principais: disciplina dos corpos dos indivíduos; e biopolítica, o governo da população como um todo.
O alvo do biopoder é a multiplicidade dos homens como formação de uma massa populacional global, submetida a efeitos próprios da vida. Pode-se sugerir, segundo Foucault, que o biopoder é um processo de normalização sobre a espécie que, no detalhe, é levada aos corpos através de mecanismos disciplinares.
O objeto da biopolítica é a população como problema político, como problema a um só tempo científico e político, como problema biológico e como problema de poder, que se estende por toda a sociedade. A biopolítica não se resume ao Estado, mas está na escola, na fábrica, no hospício, etc. É através dessa micropolítica que a racionalidade capitalista é legitimada.
Fazendo essa breve introdução, Achille Mbembe, propõe a substituição desse conceito de biopoder por um outro conceito: necropolítica. Achille Mbembe é um filósofo político camaronês. Ele traz um conhecimento sofisticado da história do pós-colonialismo para influenciar a biopolítica de Foucault. Dito isso, vamos ao que interessa. Afinal, o que significa necropolítica?
Mbembe começa “Necropolítica” com algumas definições: expressão máxima da soberania – poder e capacidade de ditar quem pode viver e quem deve morrer; biopoder – domínio da vida sobre o qual o poder assumiu o controle.
“...a expressão máxima da soberania máxima da soberania reside, em grande medida, no poder e na capacidade de ditar quem pode viver e quem deve morrer. Por isso matar ou deixar viver constituem os limites da soberania, seus atributos fundamentais. Ser soberano é exercer o controle sobre a mortalidade e definir a vida como a implantação e manifestação de poder. (pg 5)
Mbembe faz a primeira reflexão fazendo o seguinte questionamento: “Se considerarmos a política uma forma de guerra, devemos perguntar: que lugar é dado à vida, à morte e ao corpo humano (em especial ao corpo ferido ou massacrado)? Como eles estão inscritos na ordem do poder?”
Achilles Mbembe, responde a essas questões baseando-se no conceito de biopoder e explora sua relação com as noções de soberania e o estado de exceção. O conceito de estado de exceção foi muito utilizado em relação ao nazismo, ao totalitarismo. Os campos de extermínio, em particular, foram interpretados de várias maneiras, como a metáfora central para a violência soberana e destrutiva e como o sinal final do poder absoluto do negativo. Achilles Mbembe cita Hannah Arendt:
“ Não há paralelos com a vida nos campos de concentração. Seu horror nunca pode ser totalmente compreendido pela imaginação, pela própria razão de que está fora da vida e da morte” (pg 7,8)
O nazismo, para Foucault, materializou o funcionamento do biopoder, uma vez que permitiu o extermínio de judeus e outros grupos humanos em prol da superioridade da população alemã, que precisava ser “purificada”. Diante disso, o racismo é o que autoriza, segundo o filósofo francês, o direito soberano de matar na contemporaneidade.
Mbembe concorda com Foucault, mas vai além. Para ele, a capacidade de matar o outro é um elemento constitutivo do poder do Estado da modernidade. Numa situação de crise política, por exemplo, na solução de um impasse, apela-se para um estado de sítio, podendo ser suspendidas as garantias e direitos políticos de seus cidadãos, permitindo que a morte e o terror sejam garantidos pelo poder sem que isso se constitua um crime. Chamamos isso de terror coletivo.
Partindo de uma perspectiva histórica, Achille Mbembe afirma que a relação entre a modernidade e o terror tem como fontes históricas a escravidão. O escravo é um objeto, ele pode ser morto sem que nada ocorra com o dono do “objeto”. O escravo, quando não morto, é mantido em um “estado de injúria”, puramente destinado para um fim econômico.
“Como um instrumento de trabalho, o escravo tem um preço. Como propriedade, tem um valor. Seu trabalho responde a uma necessidade e é utilizado. O escravo por conseguinte, é mantido vivo mas em “estado de injuria”, em um mundo espectral de horrores, crueldade e profanidade intensos. O curso violento da vida de escravo se manifesta pela disposição de seu capataz em se comportar de forma cruel e descontrolado ou no espetáculo de sofrimento imposto ao corpo do escravo. Violência aqui, torna-se um componente de etiqueta, como dar chicotadas ou tirar a vida do escravo: um capricho ou um ato de pura destruição visando incutir o terror. A vida do escravo produz uma contradição entre a liberdade de propriedade e a liberdade da pessoa. Uma relação desigual é estabelecida ao mesmo tempo em que é afirmada a desigualdade do poder sobre a vida. Esse poder sobre a vida do outro assume a forma de comércio: a humanidade de uma pessoa é dissolvida até o ponto em que se torna possível dizer que a vida do escravo é propriedade do senhor.” (pg 29, pg 30)
Outros exemplos apresentados se referem às colônias e ao regime do apartheid, onde biopoder, estado de exceção e estado de sítio se intercalam e formam zonas de guerra e desordem. De acordo com Mbembe,
“as colônias são o local por excelência em que os controles e as garantias de ordem judicial podem ser suspensos – a zona em que a violência do estado de exceção supostamente opera a serviço da civilização”. (pg 35)
Ao longo do livro, Achille Mbembe demonstra que matar também se define como uma função coextensiva do Estado. Nesse caso, a ocupação contemporânea da Palestina é vista pelo autor como um caso bem-sucedido de necropoder.
“A forma mais bem sucedida de necropoder é a ocupação colonial da Palestina. Aqui, o Estado colonial tira sua pretensão fundamental de soberania e legitimidade da autoridade de seu próprio relato da história e da identidade. Essa narrativa é reforçada pela ideia de que o Estado tem o direito divino de existir; e entra em ocupação com outra narrativa é reforçada pela ideia de que o Estado tem o direito divino de existir; e entra em competição com outra narrativa pelo mesmo espaço sagrado. Como ambos os discursos são incompatíveis e suas populações estão entrelaçadas de modo inextricável, qualquer demarcação de território com base na identidade pura é quase impossível. Violência e soberania, nesse caso, reivindicam um fundamento divino: a qualidade do povo é forjada pela adoração de uma divindade mítica, e a identidade nacional é imaginada como identidade contra o Outro, contra outras divindades. História, geografia, cartografia. (pg 41, pg 42)
A ocupação israelense, fragmentada via assentamentos na faixa de Gaza, de acordo com Mbembe, produz espaços de violência. A guerra, portanto, se torna infraestrutural e populações inteiras viram alvo. O que Eyam Weizman chama de política da verticalidade:
“A forma resultante da soberania pode ser chamada de “soberania vertical”. Sob um regime de soberania vertical, a ocupação colonial opera por uma rede de pontes e túneis, em uma separação entre o espaço aéreo e o terrestre. O próprio chão é dividido entre a superfície e o subsolo. A ocupação colonial também é ditada pela própria natureza do terreno e suas variações topográficas (colinas e vales, montanhas e cursos d’água). Assim, o terreno elevado oferece benefícios estratégicos não encontrados nos vales (eficácia da vista, autoproteção, fortificações panópticas que permitem orientar o olhar para múltiplas direções). Weizman diz: “Assentamentos poderiam ser vistos como dispositivos ópticos urbanos para a vigilância e o exercício do poder”. No contexto da ocupação colonial tardo-moderna, a vigilância está orientada tanto para o interior quanto para o exterior, o olho atua como arma e vice-versa. De acordo com Weizman, em vez de criar uma divisão conclusiva entre as duas nações por meio de uma fronteira, “a peculiar organização do terreno que constitui a Cisjordânia criou múltiplas separações, limites provisórios que se relacionam mediante vigilância e controle.” (pg 44)
Na seção denominada de “Máquina de guerra e heteronomia”, o autor dialoga com Zygmmunt Bauman. Aponta que as guerras, na era da globalização, não têm a intenção de conquistar, de adquirir ou gerenciar território, são ataques relâmpago.
“ Sua superioridade sobre a população sedentária se deve à velocidade de seu próprio movimento; sua capacidade de descer do nada sem aviso prévio e desaparecer novamente sem aviso, sua capacidade de viajar facilmente e não se incomodar com pertences como os que limitam a mobilidade e o potencial de manobra dos povos sedentários” (pg 51, pg 52)
Nas guerras contemporâneas, como a Guerras do Golfo e a de Kosovo, parte da mão de obra militar passou a ser comprada e vendida através dos estados vizinhos, onde recursos eram destinados na compra de mão de obra de movimentos rebeldes em disputa, acarretando o que chama de “máquinas de guerras”, isto é, a formação de organizações políticas comerciais.
As armas de alta tecnologia associadas a uma guerra estrutural para se aniquilar a infraestrutura das cidades promovem o colapso das cidades, impossibilitando a sobrevivência dos moradores e provocando o caos. Dessa forma, força-se uma submissão, desconsiderando as consequências imediatas, efeitos secundários ou danos colaterais das técnicas militares empregadas.
“Se o poder ainda depende de um controle estreito sobre os corpos (ou de sua concentração em campos), as novas tecnologias de destruição estão menos preocupadas com a inscrição de corpos em aparelhos disciplinares de que em inscrevê-los, no momento oportuno, na ordem da economia máxima, agora representada pelo “massacre”. Por sua vez, a generalização da insegurança aprofundou a distinção social entre aqueles que têm armas e os que não têm (“lei de distribuição de armas”). Cada vez mais, a guerra não ocorre entre dois exércitos de dois Estados soberanos. Ela é travada por grupos armados que agem por trás da máscara do Estado contra grupos armados que não tem Estado, mas que controlam territórios bastante distintos; ambos os lados tem como seus alvos as populações civis ou organizadas como milícias. Em casos nos quais os dissidentes (pg 59, pg 60)
Longe de seus alvos, pilotos convertidos em computadores não olham para as vítimas, não há tempo para que eles verifiquem a miséria. Passam batidos, não há remorsos, não veem cadáveres. Os foguetes são disparados, e seus alvos estão muito distantes de sua consciência.
A guerra cada vez está mais longe, não ocorre entre dois Estados soberanos. Grupos armados, que muitas vezes agem por trás da máscara do Estado, contra grupos que controlam territórios (milícias) que aterrorizam as populações civis desarmadas. Máquinas de guerra em formato de milícia ou movimento rebeldes tornam-se rapidamente elementos organizados, que taxam populações, e extraem recursos naturais.
“Tomemos o exemplo da África, onde a economia política do Estado mudou drasticamente ao longo do último quarto do século 20. Muitos Estados africanos já não podem reivindicar monopólio sobre a violência e sobre os meios de coerção dentro de seu território. Nem mesmo podem reivindicar monopólio sobre seus limites territoriais. A própria coerção tornou-se produto do mercado. A mão de obra militar é comprada e vendida num mercado em que a identidade dos fornecedores e compradores não significa quase nada. Milícias urbanas, exércitos privados, exércitos de senhores regionais, segurança privada e exércitos de Estado proclamam, todos, o direito de exercer violência ou matar. Estados vizinhos ou movimentos rebeldes arrendam exércitos a Estados pobres. Fornecedores de violência não governamental disponibilizam dois recursos coercitivos críticos: trabalho e minerais. Cada vez mais, a maioria dos exércitos é composta de soldados-cidadãos, crianças-soldados, mercenários e corsários”. (pg 53, pg 54)
As máquinas de guerra são constituídas por homens armados quer se mesclam e podem funcionar como empréstimo aos exércitos regulares. Exercem várias funções, podem ser organizações políticas ou uma empresa comercial. Essas máquinas de guerra aparecem na África durante o último quarto do século XX, com a erosão do Estado pós-colonial, graças às instabilidades monetárias, e consequentemente políticas, devido à hiperinflação ocorrendo em vários países africanos. O colapso das instituições políticas formais sob a pressão da violência acaba gerando uma economia baseada nas milícias.
“Em correlação com a nova geografia de extração de recursos, assistimos ao surgimento de uma forma governamental sem precedentes que consiste na “gestão de multitudes” A extração e o saque dos recursos naturais pelas máquinas de guerra caminham de mãos dadas com tentativas brutais para imobilizar e fixar espacialmente categorias inteiras de pessoas ou, paradoxalmente, para soltá-las, forçando-as a se disseminar por grandes áreas que excedem as fronteiras de um Estado territorial. Enquanto categoria política, as populações são então decompostas entre rebeldes, crianças-soldados, vítimas ou refugiados, civis incapacitados por mutilação ou simplesmente massacrados ao modo dos sacrifícios antigos; enquanto os “sobreviventes”, depois de um êxodo terrível, são confinados a campos e zonas de exceção”.( pg 58)
Mbembe retorna à Palestina e identifica duas lógicas operando distintamente naquela região. A primeira lógica é a lógica da sobrevivência daquele que escapa da morte e mata os agressores. O cadáver do inimigo é o que faz o sobrevivente se sentir vitorioso e único. Em outras palavras, não basta apenas escapar, tem que aniquilar. A segunda lógica é a lógica do mártir cujo homem-bomba encontra a personificação máxima. Ele se utiliza do próprio corpo, sem usar uniforme, sem estar armado (com uma arma convencional), apenas com o seu próprio corpo e em lugares como um ponto de ônibus, uma cafeteria, discoteca transformando lugares civis do dia a em emboscadas.
Achille Mbembe conclui que as guerras contemporâneas reconfiguram as relações entre resistência, sacrifício e terror, que não podem ser explicadas apenas através do conceito de biopoder. Ele afirma que somente uma necropolítica e necropoder são capazes de explicar o nosso mundo contemporâneo, onde vastas populações são submetidas a condição de “mortos-vivos”. Um livro que merece um lugar de destaque na sua estante.